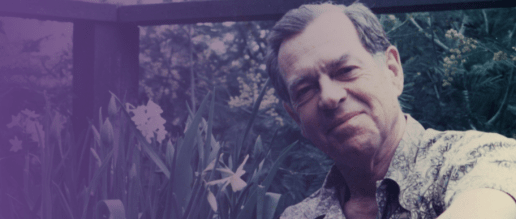João Gilberto – A esfinge que não devora os incautos
 Tributo ao amigo Luiz Carlos,
Tributo ao amigo Luiz Carlos,
Nem todos tiveram a honra de conhecer Luiz Carlos Andrade Santos pessoalmente, recentemente ele nos deixou e com ele levou uma parte de nossos corações, porém, devido ao seu talento em escrever e ensinar, deixou muitos textos, poemas, ensaios e trocas de emails que revelam, não apenas sua genialidade, mas seu estilo leve, profundo e delicioso de compartilhar sua alma. Entre suas paixões estava a música, cinema, filosofia e seu violão, que o acompanhava diariamente. Foi um músico virtuoso e inspirado!
Em sua homenagem reunimos alguns de seus escritos, que nos foram enviados através de amigos em comum, e decidimos publicá-los na Openzine para que sua memória continue vibrando e nos encantando de onde ele estiver. Fomos presenteados com sua última e derradeira aula aqui no coletivo, o vídeo, na integra, está em nossa revista, assista pelo link: http://www.foradacaixacoletivo.com.br/openzine/hello-good-bye/
Saudades sem fim,
Regina Proenca e equipe Fora da Caixa
João Gilberto – A esfinge que não devora os incautos

Como possuísse os três vinis nos quais fora feita coletânea, pela EMI, da obra gravada de João Gilberto, tinha também, nos três encartes, as harmonias com os acordes utilizados por ele na execução das canções. Posto que aprendi a fazer leitura lógica de cifras, pude, enfim, experimentar ao violão, tocar com os mesmos acordes que ele em canções como “Desafinado”, “Este seu olhar” e “Brigas nunca mais”, só para citar aquelas do maestro soberano Antônio Carlos Jobim. Ao contrário do maestro, que estudou harmonia com renomados mestres da música, João, ao que saiba, nunca recebeu qualquer ensinamento teórico em música. Tal fato me faz pensar que ele é, então, “especializado em si mesmo”. Seu jeito particular de tocar, cantar e harmonizar canções (além, é claro, da escolha do repertório para tal), é fruto do aprendizado consigo mesmo e resultado da obsessão em alcançar a mais perfeita interpretação possível para a canção escolhida. Luiz Tatit, professor de linguística na USP, diz, com exemplar e rara felicidade, que João Gilberto, pelo acabamento que imprime ao tocar e cantar as canções que escolhe para interpretar, “retira os andaimes” de tais canções, insinuando-nos que seu modo de tocá-las impede qualquer possibilidade de releitura que possa soar para além daquela realizada por ele, num paroxismo onde “acabamento” implica em “tombamento”. Esta, digamos assim, cristalização dos registros cancionistas realizados por João Gilberto, coloca-nos na encruzilhada de a um só tempo não termos como imitá-lo, e na qual, simultaneamente, ele se assume como índice de verificação do grau de excelência para o fazer musical no Brasil. Eu, como estudante de música e que disponho de pouco tempo para estudar, além de não possuir o talento natural que facilita o caminho para alguns outros, vejo-me, assim, na condição de qualquer “consumidor” do gênero “canção”, para o qual, após o fenômeno João-gilbertiano, somos como que investidos de um nível de exigência, que se por um lado facilita a triagem, em outro flanco dificulta essa mesma triagem, posto que João aboliu, em música, o dilema entre superfície e profundidade (vide José Miguel Wisnik em “O som e o sentido”), ao inventar a “canção absoluta”. Vilem Flusser, em seu glossário para a obra “Filosofia da caixa preta”, define a idolatria como “a incapacidade para decifrar os significados da idéia, não obstante a capacidade de lê-la e, portanto, adoração da imagem”, em evidente eco do pensamento de Platão, para quem a imagem falseia a realidade das coisas, desorientando-nos num mundo em que a imagem toma o lugar da idéia. Consequentemente, produz-se o caldo em que todas as formas de idolatria se fazem presente, seja nas religiões, nas artes ou nas ideologias. Em João, ainda que sua “pessoa pública” seja cercada do “folclore” que o torna excêntrico a um público ávido de excentricidades, a obra não é indecifrável. Ao contrário, resiste e doa-se incólume e transparente às interpretações que oscilam da mais alta hermenêutica acadêmica à mera opinião do senso comum instalado em algum texto jornalístico. João é a anti-celebridade capaz de gravar com o mesmo rigor “Chega de saudade”, “Palpite infeliz” e “Me chama”, como se retirasse tais canções do tempo histórico em que foram feitas. Curiosamente, o rigor de tais empreitadas não o torna indecifrável. Ao contrário, a cifra em que seu trabalho se dá é acessível tanto ao violonista que “agride” o violão com “baladas pops” quanto àquele outro tipo de músico que se esmera em tocar peças eruditas compostas especialmente para o instrumento. Como num voleio, João Gilberto escapa às armadilhas que o pudessem torná-lo refém da idolatria, ainda que boa parte da “elite” da música popular no Brasil o tenha na mais alta conta. Às vezes parece-me que ainda não foi “descoberto” em nosso país. Nunca foi campeão de vendas por aqui, ao contrário do que ocorreu nos Estados Unidos, quando ao gravar com Stan Getz, Astrud Gilberto e Tom Jobim, chegou a vender cerca de um milhão de cópias, em época na qual um número assim soa algo extravagante. Caetano Veloso já disse mais de uma vez que o Brasil precisa merecer a Bossa Nova, como que reafirmando o fato de que ainda não atingimos por aqui o nível exigível para fruição estética de obras desta envergadura. A idéia soa no mínimo paradoxal, quando pensamos na hipótese de um país revelar talentos que não fosse capaz de compreender; como se o Brasil, enquanto nação, não tivesse ousadia para, através de sua música, mirar a si mesmo no espelho. No entanto, sua música (dele, João) está lá, no centro da geléia geral brasileira (como disse Décio Pignatari, alguém há de exercer o papel de medula e osso na geléia), perfeitamente “integrada ao som dos imbecis” e condenando-nos, para sempre, a “ser desafinados” (expressões utilizadas por Caetano Veloso em sua canção “Saudosismo”).
Falando propriamente do método escolhido por ele para buscar o nível de excelência que alcançou, poderíamos dizer que opera na frequência onde harmonia, ritmo e melodia funcionam de forma indissociável. Por melodia, entendamos aqui, não o som horizontal e sucessivamente emitido por algum instrumento inventado pelo homem. Ao contrário, trata-se do som entoado pelo natural instrumento que é a voz humana quando canta afinadamente. Ou seja, como melodia, harmonia e ritmo, em João, funcionam de forma absolutamente indissociável, tais instâncias mantêm-se em equilíbrio, numa relação que não admite hierarquias. Para que isto fosse possível, foi necessário despir as canções da roupagem que até ali sustentava seu oferecimento a um público que não dispunha dos códigos necessários a uma apreciação diferente, nova, e que implicava na veiculação de informações que implodiam a redundância daquilo que, à época, se ouvia no rádio e posteriormente se passou a ver na televisão. Basicamente, “vestir” uma canção é o gesto criativo de se produzir um “arranjo” para ela, organizando-a pelos instrumentos escolhidos para executá-la e que instauram-lhe, pela harmonia, um clima apropriado. Como dissemos acima, João não dispões de recursos para “arranjar” as canções que pretende despir. Terá de fazê-lo de modo absurdamente pessoal, o que só faz acentuar minha percepção de que é especializado em si mesmo. Antônio Carlos Jobim escreveu na contracapa do primeiro long play de João, que quando ele toca, a orquestra transforma-se nele, num processo onde, aí sim, temos a hierarquia que faz com tudo se submeta ao crivo do gênio. A tarefa de “despir” as canções, em João, tinha como objetivo revelar-lhes, mais do que sua beleza (estética), sua verdade (episteme), numa produção econômica que lembra a origem da palavra techné, que na grécia arcaica tanto servia para se referir à produção de sapatos quanto à criação de poemas. A invenção da famosa batida, os acordes que harmonizaram as canções numa vestimenta diferente e o jeito único de cantá-las, revela-nos a potência do procedimento. Isto fica ainda mais claro quando ouvimos algumas gravações nas quais ele toca acompanhado apenas ao violão, sem arranjos orquestrais. Tudo soa tão essencial que é como se ele nos tomasse pela mão e nos conduzisse à cripta onde a obra nasce perfeita. Em paralelo a esta aparentemente natural emissão, sabemos da já mencionada obsessão com que repete, em particular, cada acorde e palavra, antes de oferecer-nos, em público, o resultado de um trabalho que se assemelha a uma obra de ourivesaria, onde a imagem é limada até que se lhe extraia a ideia correspondente, tal qual um platonismo que se pretendesse de elite e aristocrático (justo o contrário do que Nietzsche dizia do cristianismo, ao qualificá-lo como certo platonismo popular). Esta a razão pela qual não conseguimos idolatrá-lo: ao invés de imagens, cuja adoração caracteriza a idolatria, João, valendo-se dos canais de comunicação de cultura de massas, traz-nos à luz as ideias musicais com que veste as canções, fazendo-as soar atemporais. correndo por fora da história da música ocidental, o gênero canção não foi capaz e sequer pretendeu, em essência, eliminar o “ruído” ou valorizar o “silêncio”. Haja vista a diferença de postura entre o público que assiste à apresentação de uma orquestra sinfônica numa sala de concerto, e aquele outro público que se manifesta em qualquer show de música popular. João trouxe para o ambiente da canção as especificidades de um procedimento que é todo ele dos domínios da música erudita. Não admite amplificação do som do seu instrumento senão através de microfones capazes de reproduzir com fidelidade a sonoridade emitida. Recusa valer-se de “violões eletrificados”, aqueles que possuem um cabo que liga o instrumento às caixas acústicas. Canta numa frequência que solicita o silêncio do ouvinte. Exige que o local em que se apresenta seja dotado de acústica que não comprometa o conjunto. Mas mais do que tudo isto, longe das gravações em disco, cujos arranjos já são por si bastante econômicos, João apresenta-se só. Augusto de Campos comenta no já clássico “Balanço da Bossa e outras Bossas”, que quando o visitou em Nova Iorque para mostrar-lhe o aúdio de uma entrevista concedida por Caetano Veloso, João pediu que Augusto de Campos avisasse Caetano de que ele, de lá da América do Norte, ficaria olhando para ele, Caetano, aqui no Brasil. É assim que o vejo. Olhando-nos com a complacência de uma esfinge que não devora os incapazes em decifrar seus enigmas.
Luiz Carlos Andrade Santos